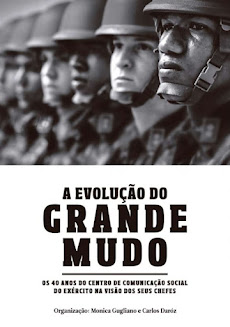.
.
Mesmo para os turistas do Império Romano, gente mais do que acostumada a espetáculos sangrentos, aquela era uma atração especial. O sucesso era tanto que, por volta do ano 200 da nossa era, até a construção de um anfiteatro em volta do templo foi autorizada, para que os visitantes pudessem acompanhar cada detalhe do ritual. Um adolescente nu tentava apanhar o queijo depositado sobre o altar da deusa Ártemis, enquanto um dos sacerdotes o chicoteava sem dó, fazendo o sangue espirrar no altar. O jovem que aguentasse mais era saudado como campeão – isso quando tinha a sorte de sobreviver à cerimônia. Os estrangeiros provavelmente deixavam o anfiteatro romano muito satisfeitos: tinham testemunhado um legítimo costume da lendária cidade-estado de Esparta.
Para muita gente, a imagem de um adolescente torturado resume à perfeição o significado de Esparta para a história. Na escola, aprendemos que, entre as cidades gregas de 2500 anos atrás, Atenas foi o berço da democracia e da liberdade de pensar e criar que valorizamos tanto, enquanto os espartanos viviam sob um regime totalitário, cuja única preocupação era a guerra, e submetiam os jovens ao treinamento militar mais desumano do planeta. Desse ponto de vista, passar de superpotência grega a parque temático sadomasoquista teria sido um destino mais do que merecido.
Acontece que, assim como a visão dourada de Atenas, essa imagem dos espartanos não passa de caricatura. Em quatro grandes batalhas contra os persas os espartanos ajudaram a proteger o que seria a origem do mundo ocidental. Por mais estranho que isso soe agora, Esparta esteve entre as primeiras cidades gregas a criar um governo constitucional, onde todo cidadão era igual diante da lei, e seus exércitos foram vistos como libertadores perto da ambição de Atenas. Por tudo isso, vale a pena tentar enxergar através das distorções que cercam a cidade mais controversa da Grécia.
Conquistadores
Mito e arqueologia concordam num ponto: Esparta é um produto do primeiro grande desastre da história grega. Até por volta do ano 1200 a.C., o Peloponeso (como é conhecida a região do extremo sul da Grécia, onde fica a cidade) estava cheio de pequenos reinos. Inscrições e objetos achados nos palácios do Peloponeso mostram que seus habitantes já falavam uma forma primitiva de grego e levavam uma vida de luxo, comerciando cerâmica, metais preciosos e marfim com o Egito, a Palestina e a atual Turquia.
Uma onda de invasões e saques, porém, acabou com essa vida mansa. Boa parte dos grandes palácios do Peloponeso foi queimada, e a região voltou a ter um estilo de vida rústico e rural durante cerca de um século. É então que, pouco antes do ano 1000 a.C., como sugerem mudanças na cerâmica e em outros objetos do dia-a-dia, chegou ali um novo povo: os dórios, ancestrais dos espartanos.
Na mitologia grega, a chegada dos dórios ficou conhecida como “o retorno dos filhos de Héracles”. Os descendentes desse herói - conhecido entre nós como Hércules - seriam os legítimos herdeiros dos reinos do Peloponeso, expulsos injustamente de lá. Mas os filhos de Héracles reuniram um exército, formado por três tribos do norte da Grécia, e recuperaram no braço o que era seu. A parte da herança é claramente invenção para legitimar a invasão, mas os dórios realmente tinham uma origem étnica comum e falavam um dialeto nortista.
Hoplitas espartanos em formação
Parte dos recém-chegados ocupou a Lacônia, o vale fértil do rio Eurotas, e fundou quatro vilarejos perto de um assentamento da época dos palácios. Por volta do ano 900 a.C., as aldeias se uniram politicamente para formar Esparta. Unificada, a cidade partiu para uma expansão das mais respeitáveis. Toda a Lacônia caiu nas mãos de Esparta: alguns habitantes - provavelmente os que resistiram aos ataques - engrossaram as fileiras dos servos, chamados de “hilotas”, enquanto outras aldeias conseguiram manter a autonomia interna, desde que reconhecessem a soberania espartana. Os moradores desses lugares ficaram conhecidos como periecos (“os que habitam em volta”). A expansão foi até por volta do ano 700 a.C., quando a cidade, sozinha, dominava dois quintos do Peloponeso.
Democráticos
Tantas conquistas, claro, trouxeram prosperidade. “Historiadores como o francês Claude Mossé consideram que, já no século 7 a.C., Esparta tem uma aristocracia amante das artes e desenvolve atividades comerciais marítimas”, diz a historiadora Maria Aparecida de Oliveira Silva, autora do livro Plutarco Historiador. Os poetas e músicos de Esparta ficaram conhecidos na Grécia inteira, e sua elite levava uma vida luxuosa, com finos objetos de bronze e metais preciosos fabricados localmente ou importados da Ásia. No entanto, há indícios de que só alguns espartanos se beneficiaram de verdade com as vitórias, virando senhores do grosso das novas terras, enquanto outros empobreciam. Em outras palavras: tensão social – que veio acompanhada por problemas militares para conter as constantes rebeliões.
A tradição espartana, que chegou até nós por relatos de historiadores como Heródoto, Xenofonte e Plutarco, diz que a solução para esses problemas foi bolada pelo sábio Licurgo, tio e tutor de um dos reis da cidade. Ele teria implantado uma reforma política profunda. Todos os cidadãos – ou seja, todos os homens livres de Esparta – passaram a eleger os 28 membros da Gerúsia, o Conselho dos Anciãos, encarregado de elaborar as leis da cidade. Os reis continuaram a ter uma série de privilégios simbólicos (o mais bizarro era o direito de ficar com a pele e o lombo de todos os animais sacrificados aos deuses), mas, na prática, viraram simples generais hereditários. O poder de decisão final ficava nas mãos do damos – o povo, versão dória da palavra que é uma das raízes do termo “democracia”.
Reunidos em assembléia, os homens de Esparta podiam aprovar ou vetar as propostas da Gerúsia, usando um método que parece ter saído de um programa de auditório – o “sim” ou o “não” ganhava dependendo da quantidade de barulho produzida de cada lado. Houve também uma reforma agrária: cada espartano recebeu um lote de terra suficiente para sustentar sua família. A reforma se completou mais tarde com o surgimento dos éforos, 5 magistrados eleitos anualmente por todos os espartanos que, na prática, passaram a deter a maior parte do poder de executar as leis.
Na época em que foi criado, esse sistema era revolucionário. O Oriente Médio ainda era dominado por monarcas absolutos, considerados semideuses. Atenas, futuro símbolo da democracia, estava nas mãos de um grupo minúsculo de famílias nobres e ricas, assim como outras cidades gregas. Esparta parece ter inventado a idéia de que mesmo um plebeu pobre tinha o direito de eleger seus representantes e ser eleito, e de que ninguém, nem mesmo os reis, estava acima da lei. Não é só conversa: a história espartana está cheia de relatos sobre soberanos que pisaram na bola e foram presos ou exilados. Os hilotas e periecos, é verdade, continuavam sem direitos políticos – mas o mesmo valia para a massa de escravos em todas as outras cidades gregas.
A partir daí, numa sociedade quase democrática, começou a se criar a futura fama de Esparta como potência militar. Também por volta do século 7 a.C., os gregos passavam por uma revolução na arte da guerra. Antes, o costume era que só os nobres e sua guarda pessoal lutassem, e os combates não passavam de expedições pequenas para roubar o gado ou as mulheres da vila vizinha. Mas a população e a riqueza da Grécia tinham crescido, e os conflitos cresciam na mesma proporção. O ideal era juntar o máximo possível de soldados no campo de batalha. Os exércitos das cidades-Estado passaram a agir como grandes unidades: os guerreiros, usando pesadas armaduras de bronze e lanças, só eram eficazes lutando em conjunto. O escudo protegia só o lado esquerdo de quem o carregava: o outro lado do corpo era resguardado pelo escudo do soldado ao lado. Se alguém fraquejasse, todos eram prejudicados. Ora, se a massa dos cidadãos passa a ser importante na guerra, a cidade não tem como se defender sem eles. Isso coloca um poder considerável nas mãos do damos de Esparta: o povo ganha força para exigir direito de voto ou uma fazenda nos arredores.
O sucesso das reformas foi indiscutível. Enquanto a Grécia inteira passou do século 7 a.C. ao 5 a.C. sofrendo com ditadores e revoluções, Esparta virou um oásis de estabilidade.
Educação de guerreiros
Para manter as conquistas e o sistema político, todo cidadão de Esparta passou a ser preparado desde pequeno para ser um supersoldado. O treinamento era conhecido simplesmente como agogué (“criação”, em grego). “A única descrição da agogué que temos é do ateniense Xenofonte, que escreve tarde, por volta do ano 400 a.C.”, afirma o historiador Paul Cartledge, da Universidade de Cambridge (Reino Unido). Segundo Xenofonte, os testes começavam no nascimento: os bebês eram lavados com vinho e levados aos anciãos de seu clã para inspeção. Os disformes ou fracos demais eram abandonados para morrer (Até aí, nada de mais: todos os gregos praticavam o infanticídio em situações parecidas.). Os meninos ficavam até os 6 anos com a mãe; depois, passavam a ser criados em pequenos grupos por um supervisor, dormindo em barracões, aprendendo a cantar, dançar (exercícios adequados para se acostumar ao ritmo da marcha militar), ler e escrever.
Quando chegava a adolescência, o cabelo dos garotos era raspado. Eram obrigados a usar apenas um manto leve, fizesse chuva ou sol, e a andar descalços o tempo todo. Recebiam pouca comida; podiam complementar a dieta roubando, mas, se fossem apanhados, levavam uma surra terrível. As chibatadas às vezes vinham em rituais religiosos, como o descrito no começo desta reportagem.
Adolescentes espartanos sendo educados na arte da guerra
Aprendiam a falar só o essencial – daí a expressão “laconismo”, derivada da Lacônia, o vale fértil onde Esparta foi fundada. “Seria mais fácil ouvir as vozes de estátuas de pedra do que as daqueles rapazes”, afirma Xenofonte. Os jovens praticavam a dança e o canto, em cerimônias elaboradas que simulavam os movimentos da guerra. Relacionamentos amorosos entre adolescentes e rapazes mais velhos eram comuns e até incentivados – os adultos eram considerados mentores dos mais novos.
Aos 19 anos, o rapaz se tornava soldado pleno, mas ainda não era considerado cidadão. Deixava crescer o cabelo – todos os espartanos adultos tinham longas madeixas, que enfeitavam com flores. Podia se casar, mas ainda não tinha permissão de passar a noite com a mulher. Isso – junto com os outros privilégios da cidadania, como votar – só era possível quando ele fazia 30 anos. Uma última obrigação o acompanhava pelo resto da vida: fazer diariamente as refeições com sua unidade de combate, geralmente formada por 15 guerreiros espartanos. O prato principal costumava ser a intragável sopa negra, feita com cevada, sangue e carne de porco.
Esse sistema tornava os espartanos resistentes e corajosos, mas sua principal função era criar espírito de equipe. A lenda de que os soldados de Esparta nunca se rendiam ou recuavam é balela: não havia vergonha nenhuma em baixar as armas se essa fosse a ordem do rei ou do general. Abandonar os companheiros é que era considerado intolerável, porque um escudo a menos na formação significava expor todo mundo ao risco de morte.
Não havia glória maior do que tombar na linha da frente, morrendo lado a lado com os companheiros: essa, para os espartanos - e para a maioria dos outros gregos - era a “bela morte”. Mas eles só agiam como kamikases quando não havia outra escolha. Uma frase registrada pelo historiador grego Tucídides é emblemática. Perguntaram a um espartano capturado se os colegas mortos tinham sido mais valentes que ele. “As flechas seriam muito espertas se conseguissem distinguir os valentes dos covardes”, retrucou o guerreiro. “Essa é uma coisa na qual o filme 300 acerta: ele mostra esse humor negro com o qual os espartanos enfrentavam a guerra”, diz Paul Cartledge.
Outro ponto que sempre se omite sobre Esparta é a condição das mulheres. Elas levaram uma vida bem melhor que as do resto da Grécia. Eram incentivadas a praticar exercícios físicos e a ficar ao ar livre, ao contrário das atenienses, quase sempre trancadas em casa. Também podiam herdar terras. “No entanto, isso não quer dizer necessariamente que as mulheres de Esparta fossem vistas pelos homens de forma diferente das outras gregas”, diz Isabel Romeo, historiadora da UFRJ que estuda o tema. “Para os gregos, a função da mulher era sempre ter filhos saudáveis. A diferença é que os espartanos achavam que, para desempenhar, ela precisava ter uma vida ativa”, afirma.
Defensores
O engraçado é que, embora o Exército espartano fosse mais poderoso do que nunca, a expansão direta da cidade parou. “Esparta temia que as cidades vizinhas apoiassem as revoltas dos servos e procurou alguma forma de convivência pacífica com elas”, diz Robin Osborne, da Universidade de Cambridge. Os espartanos forjaram uma aliança que acabaria englobando todo o Peloponeso. As cidades-Estado tinham voz nas decisões, mas era Esparta a cidade líder, que tinha mais peso na hora de ditar a política externa do bloco e decidir como e quando guerrear.
Hoplitas espartanos enfrentando os persas
Essa liderança relativamente democrática acabou sendo providencial para a Grécia. Enquanto as cidades-Estado continuavam brigando entre si, o Império Persa nascia e virava um gigante no Oriente, o grande inimigo dos gregos. Por volta de 540 a.C., as cidades gregas da Ásia caíram nas mãos dos persas. O novo império trouxe paz e estabilidade à região, mas também sufocou os desejos gregos de uma política mais democrática (os persas apoiaram ditadores fantoches por ali). O bolso grego também foi afetado, porque a Pérsia cobrava impostos ferozes e mutilava o comércio. Os gregos da Ásia se revoltaram, com o apoio de Atenas, mas levaram uma sova. A ajuda ateniense era a desculpa perfeita para a Grécia européia ser incluída no alvo das invasões. Assim pensou o rei persa Dario, cujo exército desembarcou perto de Atenas no ano 490 a.C.
Nas primeiras batalhas, os persas foram totalmente derrotados. Mas até as pedras do Eurotas sabiam que a coisa não ia ficar por isso mesmo. Xerxes, filho e sucessor de Dario, jurou vingança e preparou o maior exército que o mundo já tinha visto (talvez 120 mil soldados) e a maior marinha (cerca de 1000 barcos) para invadir a Grécia. Nenhum dos súditos do rei tinha muita escolha nessa história: todas as regiões do império tinham de contribuir com sua cota de homens, e a palavra de Xerxes era lei sagrada. Atenas e Esparta (que tinha apoiado os atenienses na primeira invasão) estavam no topo da lista negra de Xerxes. A lenda, reproduzida no filme 300, conta que as duas cidades tinham atirado dentro de um poço os mensageiros do rei, que pediam terra e água como sinal de submissão, dizendo: “Aí tendes terra e água”.
Além de enfrentar o reino mais poderoso da época, a Grécia tinha que lidar com a desunião interna. Na primavera de 480 a.C., quando a segunda onda de invasões persas começou, poucas cidades gregas queriam saber de aliança. “De 700 cidades-Estado que poderiam ter se unido à resistência, só cerca de 30 o fizeram”, diz Cartledge. Dessas poucas cidades corajosas, metade integrava o grupo dos “lacedemônios”, como eram chamados os espartanos e aliados, grupo que hoje nós chamamos de Liga do Peloponeso. “A resistência simplesmente não teria sido possível sem a Liga do Peloponeso”, diz o historiador de Cambridge. A ela se juntaram Atenas e pequenas cidades, como Plataia.
O comando supremo, tanto na terra quanto no mar, ficou nas mãos de Esparta, já que ela era a líder do bloco que formava o coração da resistência. Mais do que o comando, porém, os aliados tinham do seu lado os soldados espartanos, “a infantaria pesada mais bem treinada da Grécia – na verdade, a única infantaria profissional de que os gregos dispunham”, afirma Peter Green, professor da Universidade do Texas em Austin e um dos principais especialistas nos conflitos entre gregos e persas.
Os líderes espartanos nem sempre estiveram à altura de seus guerreiros. Há sinais de que a cidade e os outros membros da liga queriam se arriscar o mínimo possível fora do Peloponeso. Essa é uma das explicações (além da coincidência de um festival religioso, durante o qual Esparta normalmente não guerreava) para o fato de que o rei Leônidas tenha levado consigo só 300 espartanos para o desfiladeiro das Termópilas, no centro-norte da Grécia. A missão dos 300, ao lado de cerca de 7 mil aliados gregos, era tentar impedir o avanço de Xerxes em terra, enquanto a frota grega adotava a mesma estratégia no mar, no estreito de Artemísio.
Por três dias, Leônidas e os 300 – que foram vistos penteando os longos cabelos com toda a calma quando os primeiros persas surgiram – detiveram forças imensamente superiores e mataram dois irmãos de Xerxes. Mas sua retaguarda não estava bem coberta. Graças a um grego traidor, Leônidas acabou cercado e lutou até a morte com seus homens e mais 1000 voluntários aliados, ganhando tempo para que o resto do exército fugisse. Xerxes mandou decapitar o rei e crucificar seu corpo.
A sorte grega deu uma guinada cerca de um mês depois, quando a frota aliada destroçou as trirremes persas na ilha de Salamina, perto de Atenas. O próprio Xerxes decidiu voltar para a Ásia e, no ano seguinte, suas forças terrestres foram esmagadas pelo sobrinho de Leônidas. Os persas jamais pisariam outra vez na Grécia européia.
Rei Leônidas I de Esparta, líder militar na Batalha das Termópilas
Personagens
Depois de botar os estrangeiros para fora, a Grécia pôde viver seu esplendor. Em Atenas, um ano depois de os persas darem no pé, nasceu Sócrates, um dos grandes alicerces da filosofia ocidental, seguido por Platão e Aristóteles. Com os invasores contidos, a obra deles e de pensadores anteriores, como Tales de Mileto e Pitágoras, pôde sobreviver até hoje. Em 438 a.C., no lugar de um antigo templo destruído pelos persas, Atenas construiu o Partenon, símbolo máximo do período clássico grego.
No entanto, já que derramar sangue era como um passatempo para os gregos, as guerras não pararam por ali. As cidades voltariam a lutar entre si: Atenas, poderosa demais depois de vencer os persas, se tornou um império maldoso demais para as cidades conquistadas. Aliados de Atenas mandavam mensagens secretas para os espartanos, suplicando que eles “libertassem a Grécia”. O conflito era só uma questão de tempo – e as alianças passaram as 3 últimas décadas do século 5 a.C. afundadas nele. A guerra terminou com a vitória de Esparta, financiada por ouro persa.
A influência espartana agora dominava a Grécia inteira. Mas, sem o menor tato, os espartanos instalavam governadores militares impopulares ou apoiavam oligarcas que perseguiam os opositores políticos. O resultado? Mais guerra, dessa vez promovida por um novo poder: a cidade de Tebas, ao norte de Atenas. O confronto decisivo entre a desafiante e a campeã aconteceu na Batalha de Leuctras, em 371 a.C. A derrota de Esparta foi completa. A cidade virou ruínas. Tornou-se irrelevante e foi absorvida pelo Império Romano, junto com o resto da Grécia, em 146 a.C.
Diante da arte e do pensamento ateniense, pode parecer que Esparta só teve importância militar. Mas não é demais voltar a 480 a.C. e ao punhado de homens que ousou se colocar no caminho dos persas. Heródoto diz que um rei espartano exilado, Damárato, acompanhava Xerxes nas Termópilas. O rei persa teria perguntado se os espartanos, sendo tão poucos, ousariam enfrentá-lo. “Rei”, respondeu Damárato, “embora sejam livres, eles não são livres em tudo. Acima deles está a lei, um senhor a quem eles temem muito mais do que os teus servos têm medo de ti. Eles fazem o que a lei ordena, e a sua ordem é esta: não fugir diante de nenhuma multidão de homens, mas ficar em seus postos.” Poucas idéias foram tão capazes de mudar o mundo.
Fonte: Super Interessante
..m